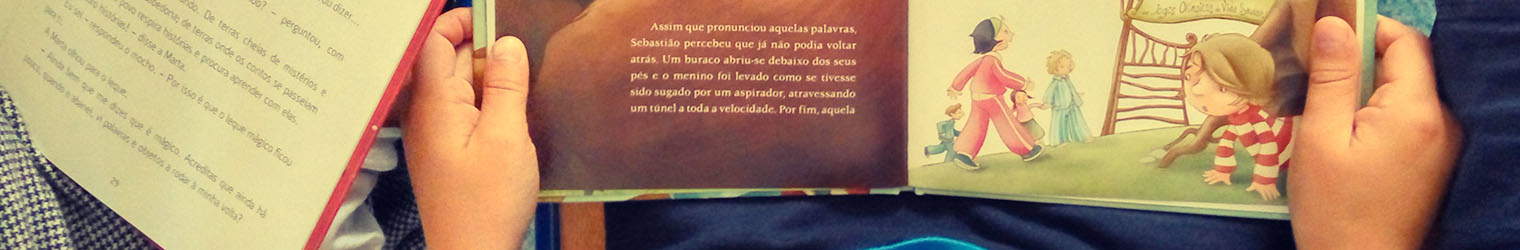… que apresentou Num Tempo Que Já Lá Vai:
Boa tarde a todos. Antes de mais, gostaria de cumprimentar o público presente, o editor e as duas autoras (do texto e das ilustrações) e agradecer o convite que me foi feito por uma delas (Rosário Alçada Araújo, a Rosarinho) para apresentar este livro NUM TEMPO QUE JÁ LÁ VAI (mas apresentá-lo hoje) e a confiança que a Patrícia Furtado e o Vítor Silva Mota depositaram no meu desempenho. Pois eu, apesar de ter dito que sim num tempo que já lá vai (para aí há três semanas), agora já não estou lá muito confiante nas minhas capacidades analíticas e menos ainda nas de exposição. Quem me conhece sabe, aliás, que não gosto de falar em público e que, quando as minhas funções a isso obrigam – normalmente também em lançamentos de livros –, quase sempre recorro a um comprimido milagroso que, por ser “o comprimido dos lançamentos”, um amigo diz com graça que é um “lansiolítico”.
Na verdade, nunca tive vocação para a performance nem talentos escondidos, e as únicas coisas que faço com um mínimo de proficiência – ler e escrever – são as que, afinal, quase todos os Portugueses hoje dominam. Não traço duas paralelas que não se encontrem num lugar qualquer, fui sempre um zero a Matemática, uma nódoa na cozinha (bastam os 50 e tal quilos do meu marido para o comprovar); sendo a mais nova, os meus irmãos nunca me deixaram cantar fora do chuveiro; tive de esperar pelos 40 para passar no exame de condução e, mesmo nas coisas do amor, fui sempre bastante trôpega, só conseguindo que alguém se casasse comigo aos 45 anos. Falar, como já devem ter reparado, também não é o meu forte – e isso explica porque venho munida de papéis e leio em vez de dizer (o que seria decerto mais agradável, embora haja muito boa gente que numa situação idêntica também prefira recorrer a um texto, como, por exemplo, o escritor Mário de Carvalho, que diz que “improvisar é para os canários”).
Feito este preâmbulo, que de certa forma espero que torne o público um pouco mais condescendente com os defeitos desta minha apresentação, queria mesmo assim explicar porque decidi, nesse tempo que já lá vai (mas hoje não seria diferente), aceitar a incumbência de aqui vir falar-vos deste livro quando, no fundo, me podia ter safado sem sequer ter de arranjar uma desculpa, uma vez que quem me convidou, a Rosarinho, sofre do mesmíssimo problema que eu (até já lhe ofereci numa ocasião especialmente exigente um dos meus «lansiolíticos») e facilmente teria compreendido a minha recusa. O medo do público é, porém, a mais insignificante das nossas afinidades – e é pelo conjunto das outras que eu não podia senão aceitar o seu convite. (E perdoe-me a Patrícia Furtado se a deixo um bocadinho de fora nesta fase do discurso, mas garanto que à frente não me esquecerei de a contemplar.)
Falando então dessas afinidades, note-se, antes de tudo, que somos ambas Rosários, o que, nos nossos dias, significa ser portador de um nome que, estando em vias de extinção, serve de distintivo. A Rosário-Autora usa – e muito bem – o diminutivo, que adoça a forma de tratamento; eu convoco o “Maria do” para disfarçar o arranhão de Rrr-rosário. Mas as Rosários, quiçá por serem poucas, são quase sempre solidárias e preferem entreajudar-se a desfiar o seu… rosário de aflições.
Em segundo lugar, somos ambas editoras (aliás, se este lançamento fosse num tempo que já lá vai, haveria 3 editores da LeYa sentados a esta mesa; mas, como também está escrito na capa do livro que hoje se apresenta, às vezes é preciso “virar a página” e foi isso que aconteceu recentemente à Rosarinho). Tendo ambas o mesmo ofício, falta dizer que eu fui editora de dois livros da Rosarinho há uns anos e que, portanto, ela já foi minha autora – e que, nesta profissão (pelo menos é assim que eu penso), a relação entre editor e autor ou acaba mal, ou nunca acaba. E a nossa, não tendo acabado, justifica que eu venha aqui hoje dar a minha opinião sobre o seu trabalho.
A seguir, gostaria de mencionar que não só as duas somos escritoras, nomeadamente de literatura infanto-juvenil, mas – mais importante do que isso – somos também leitoras. Enquanto fomos colegas, conversámos, de resto, muitas vezes sobre as nossas leituras, aconselhámos livros e autores uma à outra e até trocámos livros (ainda tenho em minha casa um romance de Yasmina Khadra emprestado pela Rosarinho num tempo que já lá vai, mas que, apesar de estar lá há séculos, ela sabe que devolverei oportunamente). Ora, trocar livros não é coisa que se faça com qualquer pessoa e implica confiança e cumplicidade.
Diga-se, quase a terminar este assunto, que também somos ambas tias (e que ter sobrinhos é muitas vezes meio caminho andado para se escrever uma história ou desenhar uma personagem, como, aliás, o comprova um post que a Rosarinho publicou recentemente no Facebook, contando que a sua sobrinha Laura tinha querido entrar numa história da tia – e lá conseguiu; é à Laura, de resto, que este livro é dedicado).
E, sem querer esgotar as afinidades, saco então da cartola a última que – perdoem-me o uso de inglês – pode ser the last, mas não é the least: tanto a Rosarinho como eu somos doidas por fado (inclusivamente, escrevemos letras), e os que amam o fado fazem parte de uma espécie de irmandade na qual não há balizas sociais, nem políticas, nem profissionais, nem de idade, apenas a paixão por uma arte muito especial. E, querendo a palavra “fado” dizer “destino”, eu soube, assim que recebi o convite para apresentar este livro, que o meu destino era vir aqui hoje falar dele.
E cá estou então a chegar ao que realmente interessa (perdoem a demora). E interessa, desde logo, tudo o que está na capa deste livro, pois de certa forma a capa sintetiza na perfeição o que se lhe segue. Vamos por partes:
Desconheço até que ponto foi uma combinação entre as autoras, ou uma ideia da talentosa Patrícia Furtado (ilustradora sobejamente celebrada, sobretudo pelo seu trabalho nas edições portuguesas de Enid Blyton), mas a verdade é que a menina protagonista desta história (que lá dentro se chama, não por acaso, Laura e tem umas roupas que eu adorava ainda poder usar) é exactamente como eu imagino a Rosarinho com a idade dela. Ignoro se a Laura real é parecida com a tia, mas o respeito pela carga genética na ilustração, se não foi voluntário, parece-me um acaso muito feliz, até porque este livro é também – ou sobretudo – um diálogo entre gerações da mesma família.
O título tem também muito que se lhe diga. Por um lado, evoca um saudosismo presente em fados como Vou dar de beber à dor, de Alberto Janes, mais conhecido como A Casa da Mariquinhas. Para quem não esteja familiarizado, cito uns versos: “Foi no domingo passado que passei/ à casa onde vivia a Mariquinhas /mas está tudo tão mudado/ que não vi em nenhum lado/ as tais janelas que tinham tabuinhas. / Do rés-do-chão ao telhado, /não vi nada, nada, nada, /que pudesse recordar-me a Mariquinhas.” O tom é este, e as ilustrações deliciosas da Patrícia Furtado de objectos mencionados no texto como o ferro a carvão, a grafonola ou o relógio de parede a que é preciso dar corda, são representações muito plausíveis do que podia ser o recheio das casas de muitas Mariquinhas, já para não falar do penico de esmalte, que não podia faltar. Porém, ao contrário do espírito choramingas portuguesinho – que não raro se traduz em ideias de que é melhor fugir a sete pés como “No meu tempo é que era bom, isto agora não vale nada e vamos mas é beber uns copos para esquecer” –, aquilo que me parece interessante e positivo neste livro (sobretudo porque se dirige aos mais novos) é que, chamando-se NUM TEMPO QUE JÁ LÁ VAI, ele cumpre paradoxalmente o desígnio da colecção: “Virar a página”, no sentido mais lato de seguir em frente. Senão, vejamos: a avó Alice, que porventura até conheceu e usou alguns desses objetos obsoletos, foi claramente capaz de virar a página e guarda o passado feito manta de tricot na cave (é uma relíquia familiar, mas não atrapalha o presente, que é vivido sem lamentações); por outro lado, o que tem graça por ser realmente original (e oxalá verosímil) é ser Laura, a criança, quem sente um certo desconforto com a balbúrdia do presente e intui que as coisas não podem ter sido sempre tão (uma palavra que não é utilizada no livro, mas está subentendida) stressantes. E interpela a avó: (cito) “Como era o mundo antes de eu nascer?”
Ora, esta pergunta é o ponto de partida para um enredo não linear, com avanços e recuos (que a Patrícia Furtado ilustra usando, com critério, linguagens diferentes para épocas diferentes – basta comparar o traço, e a traça, dos edifícios), um enredo, dizia eu, que tem, como não podia deixar de ser num livro para crianças, tanto de real como de fantástico (segredos, mistérios, magia, tudo condimentos aliciantes). Mas não falarei da história propriamente dita porque correria o risco de ser uma desmancha-prazeres para quem ainda não a leu e porque, como editora, também detesto quando os apresentadores dos livros que publico revelam demasiados detalhes e estragam as surpresas. Importa-me, mesmo assim, voltar a esta ideia da pergunta fundadora que desencadeia a história; porque, tal como escreveu Pacheco Pereira num tempo que já lá vai, a curiosidade – e a pergunta não é senão uma forma de curiosidade – é o verdadeiro motor do desenvolvimento civilizacional. Se não quisermos saber, não procuraremos respostas e o mundo não avançará. Apesar de frequentemente malvista (até se diz que ela “matou o gato”, que tem sete vidas!), a curiosidade é fundamental para os mais novos e é imperioso que eles façam perguntas para compreenderem o passado e aprenderem com ele. Infelizmente, nem sempre a escola pensa assim e muitos professores preferem os caladinhos aos perguntadores. Ignoro se foi deliberado, mas, na ilustração da p. 29, a professora da Laura está com cara de quem não gosta muito que a interrompam com perguntas e, por sua vez, a Laura com ar de quem está mortinha por sair dali. Críticas à parte, o satisfazer da curiosidade de uma geração sobre como era a vida num tempo que já lá vai (o tempo dos avós, bisavós ou trisavós) é a única forma de preservar a memória que, mesmo individual, é sempre colectiva, como aliás diz uma das epígrafes deste livro, da autoria de Almada Negreiros: (cito) “Reparem bem nos meus olhos, não são meus, são os olhos do nosso século.” Ora, tal como a avó Maria passou o testemunho à sua neta Alice num tempo que já lá vai, agora é a mesma Alice, já avó, quem o passa à sua neta Laura.
Mas costuma dizer-se que quem conta um conto acrescenta um ponto – e aqui o ponto, como vêem na capa, é de tricot. Dentro do livro, há uma manta aos quadrados amarelos e cinzentos (o passado tem coisas boas e coisas más), mas, para se saber como era a vida num tempo que já lá vai, é preciso desfazer essa manta até ao novelo inaugural e refazê-la a seguir para que a memória não se perca (o que implica saber tricotar, que é, de resto, um fantástico exercício anti-stress que a avó Alice ensina à Laura). Achei esta ideia de desfazer e refazer a manta um pouco obscura, confesso (desconheço se apenas inspirada na Recantiga de Miguel Araújo, que também serve de epígrafe ao livro e diz (cito): “E era a linha de uma vida /sendo recolhida /de volta ao novelo.”); mas, enquanto pensava na sua razão de ser, acabei por me lembrar de uma história que ouvi à romancista espanhola Rosa Montero. Um belo dia, estava o irmão a falar de coisas que recordava da infância quando ela se apercebeu de que, embora fosse pequeníssima a diferença de idade entre ambos, as suas próprias memórias das casas e das pessoas de que o irmão falava não eram nem remotamente parecidas com as dele. No fundo, duas pessoas diferentes guardam do mesmo tempo ou episódio experiências diferentes e também acontece que quem escuta um relato, ao reproduzi-lo mais tarde a outra pessoa, imprime nele a sua marca pessoal, tornando-o diferente daquele que ouviu. Pode ser uma ideia estapafúrdia, mas, neste sentido, estou convencida de que a manta tricotada pela Laura já não é igual à manta que a avó Alice tricotou no seu tempo, nem a manta da avó Alice ficou, num tempo que já lá vai, igual à que lhe tinha dado a avó Maria. E isso, no limite, quer dizer que o livro lido por esta Maria do Rosário não é seguramente o mesmo que escreveu a outra Rosário, que a Patrícia ilustrou e que o Vítor publicou. (E isso é bom sinal, porque não há nada pior do que um livro ter apenas uma leitura.) Mas vejo ainda o desfazer e refazer da manta como uma metáfora da própria criação artística, seja de literatura, pintura, desenho ou qualquer outra disciplina. Criar de forma séria e responsável pressupõe aprender, estudar, ler sobre o que foi feito antes de nós, num tempo que já lá vai; mas às vezes é preciso fazer tábua rasa de tudo isso, processá-lo mentalmente e torná-lo apenas subconsciente para se conseguir criar uma coisa nova e original. Foi isso que fizeram estas duas meninas que aqui estão sentadas.
Eu cá, não aspirando à originalidade desta apresentação, fico-me por aqui. Hoje o tempo é realmente mais veloz do que o da avó Maria, até mais stressante do que o da avó Alice, e por isso já deve estar tudo nervosinho para ir almoçar. Assim, resta-me felicitar as autoras e, já agora, dizer aos presentes que não se esqueçam de comprar o livro e de o ler. Obrigada a todos pela vossa paciência.